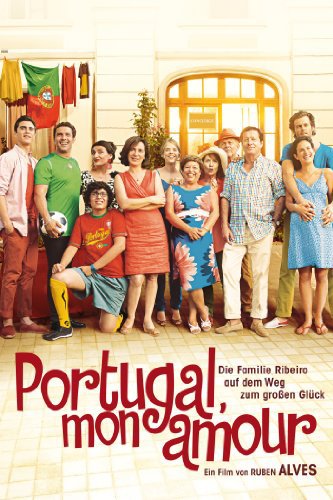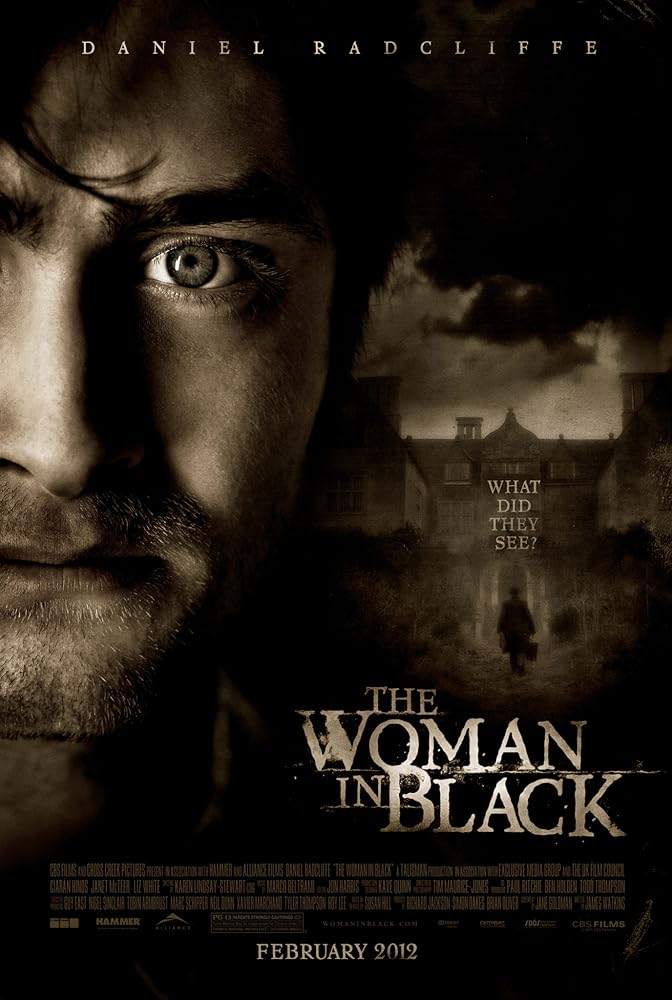Tom Cruise tenta lançar um novo
franchise com este filme, tal como aconteceu com «Missão Impossível» e «Jack
Reacher». O problema é que «A Múmia» está a milhas de distância de ser um bom
filme e, muito menos, o princípio de algo surpreendente (ao que parece, a
Universal está a planear a saída de um conjunto de filmes com o Drácula, o
Lobisomem, o Homem Invisível e a Criatura da Lagoa Negra, entre outros). Para
começar, a história teria de se levar um pouco mais a sério, coisa que não
acontece. Depois, teríamos de ter personagens com as quais realmente nos
importássemos, o que não é o caso. A única coisa que podemos fazer é olhar para
o aspecto aventureiro do filme e regalarmo-nos com algumas cenas de encher o
olho – o avião militar em queda livre com os seus ocupantes no interior em
gravidade zero e as explosões a que o nosso herói foge milagrosamente.
A história começa há séculos
atrás quando uma princesa egípcia, destinada a ser a primeira rainha do Antigo
Egipto, vê esse direito ser-lhe retirado quando o seu pai tem um filho varão de
outra mulher. Assim, a princesa Ahmanet opta por fazer um pacto com o deus do
Mal Set, mata o pai, a madrasta e o irmão bebé e quase consegue fazer com que o
deus Set reencarne no corpo do seu amante, mas é apanhada antes de sacrificar o
amante. Sendo enterrada vida, é encontrada séculos mais tarde por Nick Morton a
quem escolhe para ser o novo receptáculo de Set, depois de voltar à vida. Já de
si não é uma premissa genial mas o rumo que a história toma, sem nunca saber se
quer ser um filme de terror, um filme de acção ou uma comédia, acaba por torná-lo
desinspirado em todas as frentes.
Tom Cruise continua igual a si
próprio, não convencendo nem deslumbrando. Os secundários, Annabelle Wallis,
Jake Johnson (este a proporcionar um momento à «Lobisomem Americano em
Londres») e Russell Crowe estão um pouco melhor, mas ainda assim, limitam-se a
cumprir os seus papéis, sem grande empenho. Sofia Boutella, a princesa Ahmanet,
consegue ser assustadora, o que é bom num filme que pretende ser arrepiante.
Este «A Múmia», apesar de contar
com um dos mais estimados actores do mundo, fica abaixo do filme de 1999 com o
mesmo nome encabeçado por Brendan Fraser
e Rachel Weisz.
Nota: 2,5 em 5.
Desejo-vos muitos e bons filmes.