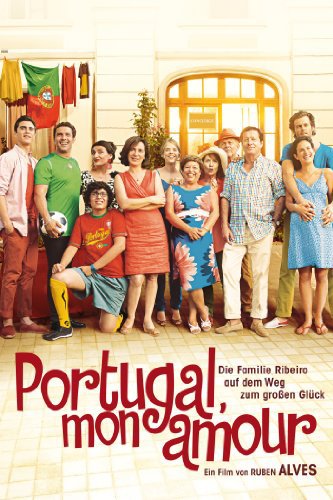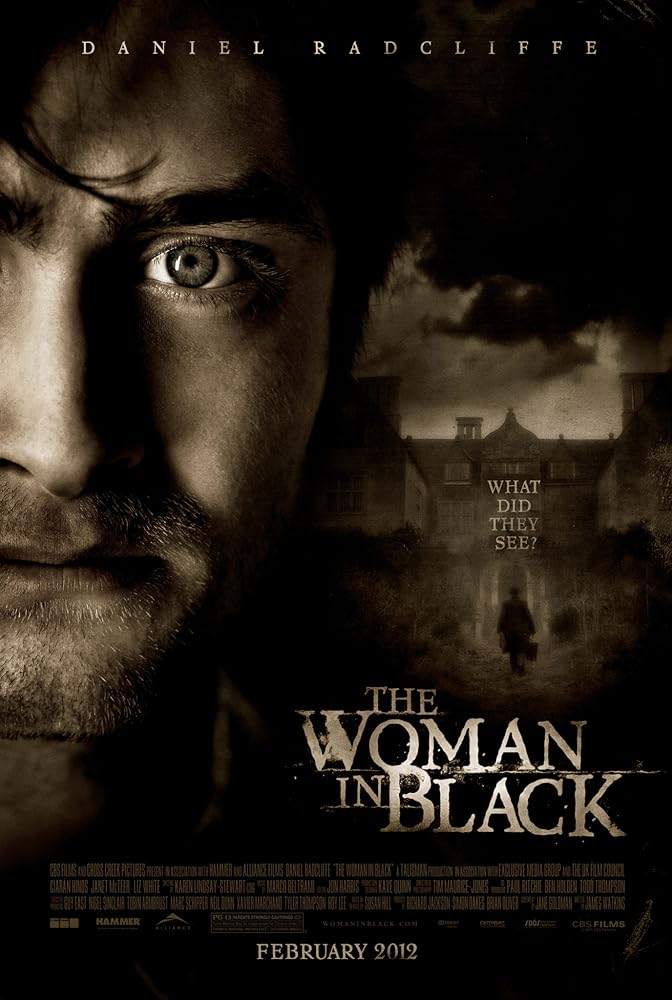Pi, em termos matemáticos,
representa a relação entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro e
é, habitualmente, associado ao valor de 3,14. No entanto - e matemática à parte
- Ang Lee apresenta-nos um poema neste seu novo trabalho cinematográfico: «A
Vida de Pi» é um colosso visual, sonoro e narrativo, um festim para os sentidos
e um regalo para a alma. O realizador de Taiwan já tinha mostrado a sua fibra
em títulos como «O Segredo de Brokeback Mountain» ou «O Tigre e o Dragão», mas,
desta vez, Ang Lee deu tudo por tudo e fabricou uma obra-prima a partir do
best-seller de Yann Martel.
Com ou sem 3-D, assistimos a uma
experiência cinematográfica ímpar. Não é de espantar que este objecto artístico
tenha ganho quatro das categorias para as quais estava nomeado nos Óscares: melhor
realizador (para Ang Lee), melhor fotografia, melhores efeitos visuais e melhor
banda sonora original. E não seria injusto acrescentar o Óscar de melhor filme.
Piscine Patel, ou simplesmente
Pi, é um jovem que vive com a família (os pais e um irmão), detentora de um
jardim zoológico, numa região francesa da Índia. À medida que vai crescendo, Pi
aprende – nem sempre da maneira mais agradável - que, no reino animal, nada é
um mar de rosas, ensinamentos que o pai lhe inculca desde cedo e que se vão
revelar úteis na odisseia que espera o jovem. Chega então o dia em que o
patriarca anuncia ao resto da família que a respectiva situação financeira não
está famosa e terão de se mudar para o Canadá com os animais do zoo, em busca
de uma nova vida. Porém, a meio da viagem de barco, o inesperado acontece e há
um naufrágio do qual se salvam, basicamente, só Pi e um tigre de Bengala feroz
chamado Richard Parker (o porquê do nome do tigre é hilariante). Durante uma
boa parte do filme assistimos à relação entre o adolescente e o animal num bote
salva vidas, mas quem julga que há aqui laços de ternura entre homem/besta,
desengane-se: um tigre é um tigre, na selva ou no mar.
A fotografia é indubitavelmente assombrosa,
com um leque de cores rico e um contraste bem realçado. Suraj Sharma, o actor
que dá vida a Pi, revela-se brilhante na alternância entre a candura juvenil e
a bravura a que é obrigado a recorrer, dada a situação. O tigre é um triunfo
dos efeitos gerados por computador e uma mostra do quão longe se consegue
chegar actualmente na recriação da realidade; poucas são as vezes em que se
nota que o mesmo é digital. O final do filme oferece uma revelação que lhe
confere um maior realismo mas que em nada estraga a beleza poética do que vimos
antes. Em suma, «A Vida de Pi» é um tratado sobre a fé e crença humanas, tanto
em Deus (abordado sob o ponto de vista de várias religiões) como nas nossas
próprias forças interiores.
Desejo-vos muitos e bons filmes.